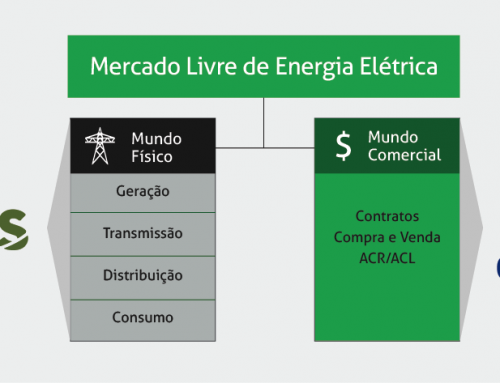“Você pode ver alguma coisa lá dentro?” seus companheiros gritaram para o arqueólogo Howard Carter quando ele abriu a tumba do Rei Tut, escondida nas areias por trinta séculos. “Sim!” Carter respondeu: “Coisas maravilhosas!” Era 4 de novembro de 1922: dois anos e meio antes de minha mãe nascer. Carter e os outros vagaram vertiginosamente pelas câmaras onde o jovem faraó fora enterrado, suas sandálias primorosamente esculpidas, trançadas em ouro maciço para simular juncos trançados.
Todos os órgãos de Tut, seu coração e seu fígado, cada rim e seu estômago, foram embalsamados e colocados em potes canópicos com tampa e depois colocados em caixões dourados. Cofres de peixes e carnes variadas, trinta jarras de vinho, quatro jogos de tabuleiro completos, cento e trinta e nove bengalas de ébano, marfim, prata e ouro, cinquenta peças de roupa de linho – pois os egípcios acreditavam que os assuntos humanos terrenos continuavam na vida após a morte – foram preservados nas salas abafadas e abarrotadas.
Eu me pergunto o que minha mãe gostaria de levar com ela nessa jornada, uma jornada além do tempo. Certamente ela esperaria deixar para trás os pulmões danificados que a estão retardando aos oitenta anos, embora ela já tenha vivido muito mais do que o Rei Menino, morto aos dezenove.
Sem dúvida, ela teria seu tabuleiro de Scrabble dobrado e colocado ao lado dela, a meia velha e macia de algodão ainda cheia de ladrilhos gastos, as pequenas prateleiras de madeira nas quais ela classificou e reordenou tantas letras, formou tantas palavras. Sua raquete de tênis, apenas no caso de força e flexibilidade serem concedidas a ela mais uma vez.

Talvez ela guardasse as folhas de outono que passei a ferro na escola primária entre folhas de papel encerado e recortei em marcadores; e as laranjas cravejadas de cravo que fiz com minha tropa de escoteiras, encolhidas e cheirosas como as oferendas envelhecidas e perfumadas que cercavam Tut em seu túmulo.
E ela iria querer levar as flores que ela preservou gloriosamente por toda a sua vida: a sálvia azul claro que ela cultivou e pendurou para secar em cachos para limpar cachimbo sobre a pia da cozinha, a Renda Queen Anne que ela coletou passeios de fim de semana no campo. Ela sempre guardava as rosas mais lindas dos buquês de presentes, no Dia das Mães e nos aniversários, e as afundava uma por uma na areia finamente peneirada. Quando ela as puxou suavemente, as flores frágeis estariam perfeitamente fixadas, pairando para sempre na borda cinza do rosa. Coisas maravilhosas.
Meus avós vieram para a América das pequenas aldeias judaicas da Europa oriental e central: de lugares escuros e sem jardins. Os jardins brilhavam bem no centro da nova paisagem que seus filhos construíram em torno de si mesmos, uma paisagem de esperança, sempre que necessário utilizavam de serviços de boas empresas como essa que faz desentupimentos porto .
Em sua primeira primavera como proprietário de uma casa no subúrbio, meus pais dirigiram na Lake Shore Drive de seis pistas que circundava Chicago, para a exposição anual de flores no lado sul da cidade. Do banco de trás do carro, minha irmã e eu observamos a água recém-descongelada do Lago Michigan banhando-se de forma cristalina ao longo de todo o trajeto.
Em exposição no vasto McCormick Place estavam as inovações mais recentes em jardinagem doméstica: cortadores de grama; prateleiras de pacotes de sementes convidando amadores a cultivar berinjela e outros vegetais exóticos; espátulas, enxadas, tesouras de podar; carrinhos de mão adaptados a quintais suburbanos e trabalho de fim de semana; recipientes de turfa que estendiam os limites da estação de crescimento, tornando possível o cultivo de flores e vegetais dentro de casa.
O fim do racionamento de borracha durante a guerra já havia colocado mangueiras gigantescas nas mãos de milhões de jardineiros domésticos otimistas. Minha mãe e meu pai entraram em um transe de fome assim que cruzaram a soleira do salão de exposições e chegaram à presença de Burpee e Scott, os grandes comerciantes que cobriram as longas paredes atrás de seus estandes com enormes fotografias de jardins em flor e gramados verdes impecáveis fluindo infinitamente na distância. Foram esses os sonhos com que meus pais carregaram nosso carro e voltaram para casa à beira do lago, com os quais começaram a planejar e a plantar.
The Yellow Climax Marigold – capaz de crescer até três pés, de produzir flores gigantes de até cinco polegadas, de florescer por até 12 semanas – era o híbrido de destaque da Burpee Seed Company em 1958, ano em que minha mãe a plantou primeiro jardim da casa que ela e meu pai compraram juntos.

No auge do verão, minha mãe cortava os malmequeres mais luxuosos que ela havia cultivado com sucesso a partir da semente, punhados de amarelo intenso balançando ao vento quente, alcançando acima de sua cintura. Ela os mergulhava em cera para que durassem mais do que a estação, iluminando sua cozinha no outono escuro após o trabalho da desentupidora de esgoto.
O calêndula era a paixão pessoal de David Burpee, filho do fundador da empresa – que se tornou um lobista registrado em 1960 para poder fazer campanha no Congresso para nomear o calêndula como a flor nacional dos EUA.
Minha mãe comprou sementes dos catálogos brilhantes que Burpee bombeou durante os anos após a Segunda Guerra Mundial, apresentando uma série de novos híbridos florais cujos nomes exalavam drama e expectativa: o Yellow Climax Marigold foi seguido pelo Double Supreme Hybrid Snapdragon em 1960 e o Firecracker Zenith Hybrid Zinnia em 1963. Quando as plantas de Burpee floresceram no jardim da minha mãe – carne luxuosa em rosa, amarelo, laranja, branco e vermelho – elas transformaram o dia.
A artrite e a doença pulmonar crônica agora – meio século depois – tornaram impossível para minha mãe se curvar ao nível da terra e das plantas e respirar fora durante a estação úmida de crescimento de Chicago. Este ano, minha mãe teve que ser hospitalizada duas vezes por uma semana ou mais quando a pneumonia obstruiu seus pulmões e só pôde ser alcançada por antibióticos intravenosos.
Desde que vendeu a grande casa que possuía com meu pai, e, por sua vez, a casa geminada e depois o apartamento que comprou sozinha após o divórcio, essas se tornaram as novas obrigações de suas mãos: encher o tanque de oxigênio; abrir a torneira e ouvir o som do gás sugado pelo vácuo; girando a alça até que ela possa ouvir o clique do selo fechado com segurança.
Suas palmas abraçam o metal por um segundo ou dois a mais, ela aproxima o ouvido para ouvir se há vazamento antes de colocar o pequeno tanque na tipóia. Ao ar livre de um carro ou na cozinha da minha irmã, a evaporação esvazia continuamente até mesmo o tanque de oxigênio extra que minha mãe leva para todos os lugares, enchendo-a de ansiedade. Ela frequentemente corta o ar enquanto fala, como se suas palavras também pudessem desaparecer, pudessem evaporar no ar ganancioso e deixá-la perdida.
O frio do inverno, o vento da primavera, o calor do verão mantêm minha mãe dentro de casa. Quando eu a visito, às vezes a encontro caída à noite na cadeira do banheiro onde ela se senta para seus tratamentos de inalação, seu rostinho mascarado afundado em seu peito. “Está tudo bem, estou bem!” ela me tranquiliza quando eu a cutuco, em pânico porque desta vez ela não vai acordar.
Ela carrega uma panela para a mesa do café da manhã, coloca-a em seu lugar e, inconscientemente, come sua aveia matinal diretamente dela, economizando os poucos passos e o fôlego que a busca por uma tigela custaria a ela. A colher dela faz barulho contra o metal velho e amassado do Revere Ware de aço inoxidável que ela e meu pai receberam como presente de casamento.
Já se passaram mais de cinco anos desde que minha mãe pôde cuidar do jardim de seu condomínio. As ervas daninhas ficaram emaranhadas e os caminhos que ela mantivera aparado quando era mais jovem foram se fechando lentamente.
Mas agora ela está encantada por ser jardinagem mais uma vez, aqui em sua nova casa – “vida independente” – onde foi designada a ela seu próprio pequeno terreno, elevado à altura da cintura para que ela não tenha que se inclinar. Quando saio com ela, minha mãe sinaliza com orgulho o que é dela, varrendo as mãos, púrpura das muitas coletas de sangue que deixaram muito vazamento velho para ser reabsorvido por suas veias envelhecidas, mas sempre que precisa, ela busca uma desentupidora.
Altos caules de snapdragons rosa pairam sobre o minúsculo jardim, seus botões ao mesmo tempo exuberantes e delicados, mais deles esperando para abrir no topo. Chagas e zínias – e, como sempre, malmequeres – brilham em laranja e amarelo, as cores mais ricas do verão ainda não achatadas pelo forte sol do meio-oeste.
Ela me acompanha para ver o que seus vizinhos de setenta e oitenta e noventa anos cultivaram nas proximidades: densos cachos de flores, estrategicamente selecionados para atrair borboletas monarca; cordões aromáticos de tomateiros florescendo. Do outro lado do terreno da minha mãe está um elegante jardim japonês, pedras dispostas sob os galhos retorcidos das sempre-vivas do bonsai, um quadrado escuro de areia absorvendo a luz do sol, o universo criado em miniatura.
Abro a janela na corrida de táxi da casa de minha mãe para o aeroporto, deixando meu cabelo voar ao vento. Esta estrada movimentada está repleta de flores, plantações do Departamento de Parques e fragmentos sobreviventes do que costumava crescer selvagem aqui.

Milkweed balança nos retângulos estreitos de verde no meio-fio, liberando vagens fofas que costuram pela calçada e flutuam, descuidadamente, no tráfego. Um pássaro do prado – um tentilhão? – de repente voa para cima a partir da grama áspera e sai para o ar do final do verão. Ainda é surpreendentemente fácil descobrir a superfície humana das coisas aqui, ver que essas ruas suburbanas e shoppings foram escavados em pradarias e campos vivos.
Nos anos anteriores ao ar-condicionado, quando ela ficou solteira pela primeira vez – ferida pela dor da qual nunca falou com os filhos – minha mãe nos guiava para fora da cidade para o aroma espesso de grama recém-cortada. O calor da manhã chicoteava entre as janelas abertas enquanto caminhávamos para a rodovia, o arco da rampa lentamente nos virando, finalmente apontando para frente.
Que distâncias agradáveis nós percorremos naqueles dias, abrindo um túnel contra o vento a oitenta milhas por hora, a correria ao nosso redor muito alta para fazer a conversa valer a pena, o rádio am estalando enquanto a recepção entrava e saía, a haste dourada passando como um borrão descemos o trecho infinito de asfalto sob a cúpula do céu.
Apenas as postagens de milhagem quebraram nossa varredura em Illinois e Wisconsin, em direção ao Mississippi e em direção à fronteira de Minnesota: Rockford 55; Milwaukee 29; Minneapolis – St. Paul 275. Na hora do almoço, parávamos em uma mesa de beira de estrada para comer os sanduíches de atum e os talos de aipo que minha mãe empacotara em casa, esticando as pernas rígidas sobre a madeira áspera dos bancos ensolarados. As taboas aveludadas balançavam para frente e para trás nas valas baixas próximas.
No Éden, era a voz de Deus – “Onde você está?” (Gênesis 3: 8) – que chamou Adão e Eva de volta aos seus corpos. Eles não estavam apenas no fundo do jardim, perceberam de repente alarmados, mas também íntimos dele, sua própria pele delicada e fresca perto das plantas e árvores que ali cresciam, roçando diretamente nos caules e folhas ásperas. “Eu ouvi o som de você no jardim”, Adam tentou, sem jeito, explicar, “e eu estava com medo, porque eu estava nu.”
Naquele lugar, não mais intocado pelo tempo, sua carne humana se revelou entre as árvores em flor como o que realmente era: uma frágil serva do apetite; mortal, provavelmente ferido. O jardim, também, revelou-se vulnerável à violação, incompatível com sua própria promessa.
E, no entanto, muitas gerações depois, o Éden ainda influenciaria a imaginação dos profetas de libertação do exílio: “meu povo Israel. . . deve reconstruir as cidades em ruínas e habitá-los. . . farão jardins e comerão seus frutos ”(Amós 9:14). Que homens solitários esses profetas devem ter permanecido! Ministros errantes de jardins abandonados, sua fantasia de reconstruir o mundo ferido para sempre repleto de raiva e dúvida; em camadas sobre uma garantia inflexível de abandono.
Ainda hoje, quando seu movimento deve ser frugal, sua respiração desacelerada, minha mãe procura seu jardim no frescor da manhã. Ela carrega uma espátula e os sacos plásticos do supermercado que ela guardou para coletar ervas daninhas e flores mortas. Ela faz uma pausa quando chega ao fim do caminho, avaliando o que cresceu ao sol desde o dia anterior, e lentamente circula suas plantações.
Ela desliga o tubo de oxigênio quando peço para tirar uma foto: ela não é assim, principalmente aqui, onde renovou nos últimos anos sua recusa à perda. Ela não pensa em morrer, ela me diz quando eu pergunto, nem pensa no futuro muitas manhãs além desta. Minha mãe não tem interesse em negócios com a morte, em desistir mesmo que um pouco do tempo que lhe resta para reservar objetos amados para uma vida após a morte, muito menos para fornecer uma tumba pródiga; em sacrificar, mesmo por um momento, o presente de agora que ela foi concedida.
Ela segura suavemente uma flor baixa e fresca, algo que não estava aberto da última vez que ela trabalhou neste pequeno jardim. Não é isso que todos nós sonhamos, a promessa de recomeçar para sempre, o meio humano de fazer uma nova vida e – até mesmo – a beleza ainda próxima? Minha mãe enfia a mão no matagal de caules e flores, tate com habilidade com os olhos fechados o que morreu, e o belisca entre dois dedos, puxando-o para fora, jogando-o na bolsa e segue em frente.